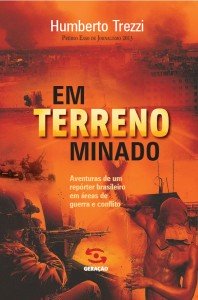Do front da notícia: um jornalista em terreno minado
Por Adriana Carranca
Muitos estudantes de jornalismo me falam sobre o sonho de se tornar correspondentes de guerra. Pedem sugestões de como driblar os perigos do Afeganistão dos talebans, entrar na Síria assolada pela guerra, circular pelos atalhos de terra apinhados de rebeldes no leste da República Democrática do Congo, viabilizar uma viagem ao Irã dos aiatolás. Torturam-se com a falta de oportunidades e preveem as dificuldades da carreira dado o orçamento apertado das redações. A todos eles eu digo a mesma coisa: comece com a esquina da sua casa.
Humberto Trezzi, gaúcho, 50 anos, mais de 40 prêmios de jornalismo, cobriu conflitos em Angola, Colômbia, Haiti, Líbia, Timor Leste. Nunca deixou de olhar para a esquina de sua casa. “É provável que a maioria dos brasileiros desconheça essa faceta de Porto Alegre, mas a capital dos gaúchos convive com uma epidemia de homicídios que há quase uma década cresce um pouco a cada ano”, ele escreve no livro Em Terreno Minado (editora Geração), em que nos revela sua descoberta sobre o sangrento fenômeno das gangues do tráfico em disputa pelo território da cidade – 171 grupos, Trezzi listou, com a ajuda da psiquiatra Montserrat Vasconcelas. “O Iraque é aqui e os americanos somos nós, os habitantes que não moram na periferia”, disse Montserrat ao repórter.
*
Na sala da casa do bangalô, imagens de Nossa Senhora Aparecida dão um ar inocente à Firma — como os traficantes chamam a boca de fumo. Mas, nos quartos, uma festa pagã se desenrola. Mulheres com shorts cavados e bustiês se estiram ao lado de rapazes chapados, bebendo uísque no bico da garrafa. Alguns dos jovens portam pistolas e as giram em torno do dedo indicador, brincando com a morte. As paredes exibem demônios grafitados, enquanto o som solta “Deixa a vida me levar”, um dos maiores sucessos de Zeca Pagodinho. E eu ali, esperando uma brecha para entrevistar a quadrilha.
(…)
Como um executivo de bem com a vida, Flávio acorda sem pressa, às 9 horas, em Porto Alegre. Toma um banho e prepara o café para a mulher. Bate um papo, beija as crianças e sai para o trabalho, às 11 horas. Em vez de uma pasta preta, uma pistola Taurus calibre .380 na parte de trás das calças, sob a camisa florida. Enche os bolsos com pentes carregados, quinze balas em cada um.
Flávio é gerente, mas não de uma empresa qualquer. É o encarregado de tocar a Firma, como os traficantes chamam a boca de fumo. Não gostam da palavra tráfico. Preferem “movimento”, como se fosse uma causa — e, também, pelo vaivém de viciados em busca de pó (cocaína).
Como membros de uma religião profana, os traficantes também descansam. A Firma fecha aos domingos — melhor dizendo, na madrugada de sábado. Depois do último viciado, os funcionários da boca descem o morro até um salão de pagode situado ao lado do estádio do Esporte Clube Internacional.
*
Trezzi se viu em meio a intensos bombardeios na Líbia, mas foi nessa esquina do mundo que é o Brasil que quase morreu duas vezes. Fez mais de 15 coberturas sobre a violência no Rio. Conheceu “a cidade maravilhosa pelos fundos”, como faz um bom repórter. Foi buscar a notícia sobre a maior chacina ocorrida até então, em Vigário Geral, em 1993, com quem tinha sobrevivido a ela: os traficantes. Revelou detalhes do crime e nomes de policiais. O furo de reportagem repercutiu nos jornais cariocas e Trezzi foi promovido pelo então diretor de redação Augusto Nunes. Como prêmio, pediu para voltar ao Rio. Queria “conferir como está a favela no pós‑massacre”.
*
O ambiente, lógico, é muito diverso daquele da época da chacina. Nada de repórteres, policiais, ONGs de Direitos Humanos… Só moradores caminhando, na dura rotina diária. O sol se põe à tardinha, jovens jogam bola num campinho de chão batido, o visual é até poético. Numa esquina, uma menina de uns catorze anos fuma um beque de maconha, estraçalhando a poesia e nos transferindo sem escalas de volta à dura realidade da favela.
(…)
“Aqui” é o gatilho de uma submetralhadora Pistol Uzi, arma automática israelense do tamanho de uma pistola (daí o nome…). Só tinha visto em filmes. Agora estou ali, na mira do bandido. Num rasgo de lucidez, Ronaldo baixa a câmera e não faz a foto. Para quem conhece o colega, um baita sacrifício. Ronaldo é daqueles fotógrafos fanáticos, que leva câmera até no banheiro. Os criminosos caminham e nos cercam, sem pressa. Noto que levam pendurados fuzis AK‑47, Colt AR‑15, Remington e FAL.
Perguntam o que perdemos por ali. Nada, respondo. Explico que estamos atrás da “rapaziada do movimento”, para atualizar a situação na favela, ver o que aconteceu após a chacina, entregar umas fotos. Eles parecem nem ouvir o que falo, estão paranoicos. Um dos bandidos pergunta se conhecemos alguém ali. Menciono “Stallone” e saco da bolsa do Ronaldo uma foto ampliada do rapaz que nos guiara pela favela, um dia após a chacina. Resposta errada, deduzo, pelo silêncio. Percebo que algo vai mal.
— Esse aí já era. Vacilou — resumiu um criminoso.
Fico tenso. Um racha ocorrera na quadrilha, imagino. Para nosso azar. A situação piora quando um dos traficantes, um sarará de cabelo amarelo, repara no cabelo escovinha do Ronaldo, curtíssimo, e desconfia.
— Ih, rapaz, acho que tu é PM…
O fotógrafo diz que não é policial. O sarará insiste, apontando a Uzi para a cabeça dele e reafirmando: “PM, tu é PM…”. Para meu espanto, o Ronaldo — um dos sujeitos mais corajosos que conheço — desafia o traficante:
— Tira essa arma da minha cabeça, senão tu vai levar o maior pau da tua vida.
Rapaz… para o quê! Os bandidos apontam todas as armas para nós, agarram nossos braços e colocam para trás das costas. Discutem entre si.
Um deles, o sarará, grita:
— Leva pra vala, leva pra vala!
*
Em Terreno Minado é uma aula de realidade. Aos estudantes de jornalismo: antes de sair à esquina, leiam o livro de Trezzi. Aos que não são jornalistas: antes de sair à esquina, leiam o livro de Trezzi.
*
Às segundas, o blog dedica seu espaço para a literatura de guerra, sejam os confrontos armados ou as batalhas cotidianas pela vida.
Fonte: Estadão/Blogs